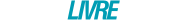David Byrne conta o motivo de recusar uma reunião do Talking Heads
22 de março de 2018
‘‘Meu agente de turnês disse: ‘Acho que você está tendo um momento Leonard Cohen’”, conta David – antes de esclarecer, rindo, que a referência era relativa à renovação da relevância e popularidade, não à morte que espreita. Neste mês, ele lançou um poderoso novo álbum, American Utopia (composto sobre bases sonoras criadas por Brian Eno, seu colaborador de longa data), antes de partir para a turnê mais elaborada desde os shows do Talking Heads eternizados no filme Stop Making Sense (1984), com um setlist que cobre sua carreira. “Temos seis bateristas e percussionistas”, diz Byrne, de 65 anos, que imagina um palco cheio de músicos fazendo movimentos constantes e coreografados. “Os seres humanos se tornam o cenário.” Byrne passará por São Paulo, dentro da programação do festival Lollapalooza, no dia 24. Antes, no dia 22, ele se apresentará no Pepsi on Stage (Porto Alegre). No dia 26, seguirá para Curitiba (Teatro Positivo) e aí para o Rio de Janeiro (Km de Vantagens Hall, em 28/3), antes de encerrar o giro pelo Brasil no dia 29 no Km de Vantagens Hall de Belo Horizonte.
American Utopia é bem coeso e pop. Essa direção foi deliberada?
Fico à vontade com isso porque as letras estão muito distantes do que você escuta em uma canção pop normal. Para muitos artistas simplesmente digo: “Você tem que escrever sobre alguma coisa que não seja sobre seu namorado ou sua namorada! O mundo é grande. Você não tem mais 18 anos – consegue fazer isso!” [risos]
Você acabou de fazer um projeto multimídia, Reasons to Be Cheerful, em que encontrou motivos para ficar otimista quanto ao mundo. O que deixa você pessimista?
O fato de o Partido Republicano não discordar de Donald Trump. Ele é um maldito racista e ninguém diz nada e ele leva o partido para onde quer. Se não discordam dele, são tão racistas quanto. Não podemos nos esquecer disso.
Você disse uma vez que evitava uma reunião do Talking Heads porque isso obscureceria as outras coisas que faz. É realmente tão simples assim?
Há muita coisa nisso. Vejo o que acontece com as outras pessoas quando elas se reúnem – e como isso se transforma em uma segunda reunião e uma terceira reunião. Com uma banda como o Pixies, é diferente – eles têm um público agora que mereciam ter há anos. Mas a maioria desses artistas simplesmente não tem mais nada novo a dizer, e eu penso: “Ok, voltar é só uma espécie de exercício de nostalgia”. Não estou interessado nisso.
Você foi um dos primeiros alvos de debates sobre apropriação cultural, especialmente com My Life in the Bush of Ghosts (1981), que tinha samples de cantores libaneses e egípcios. Como vê tudo isso agora?
Como artista, pensei: “É uma coisa rock and roll”, mas não vou sair e fingir que sou negro – você sabe de pessoas em quem a apropriação parece um pouco próxima demais, mais como uma imitação. O desafio seria eu conseguir pegar as ideias flutuando e colocá-las em uma atitude e um corpo de um branco estranho. Só que …the Bush of Ghosts é particularmente espinhoso. Não é nem alguém aprendendo o estilo de guitarra de outra cultura ou algo assim, o que, na minha opinião, é totalmente legítimo. Neste álbum, você realmente ouve as vozes de pessoas de outras culturas. Quando é a voz de alguém, uma parte de uma alma foi apropriada. Não estou falando mal do meu próprio disco, mas entendo por que pode dar essa impressão.
Você é fã de “Bad Liar”, de Selena Gomez, que tem um sample de “Psycho Killer”. Fica chateado de ouvir sua música tão descontextualizada?
Não, nem um pouco. Ficaria se alguém pegasse, digamos, “This Must Be the Place”, que é uma canção de amor muito pessoal – se alguém a remodelasse e transformasse em uma coisa horrível e violenta, eu provavelmente diria: “Não, você não tem permissão para fazer isso”. Não sendo esse o caso, tudo bem, remodele. Não há problema. E, sabe, recebo por isso também. Então, obrigado, Selena Gomez! [risos]






 Curta no Facebook
Curta no Facebook Siga no Twitter
Siga no Twitter Siga no Instagram
Siga no Instagram Assine nosso canal
Assine nosso canal Fale com a gente
Fale com a gente